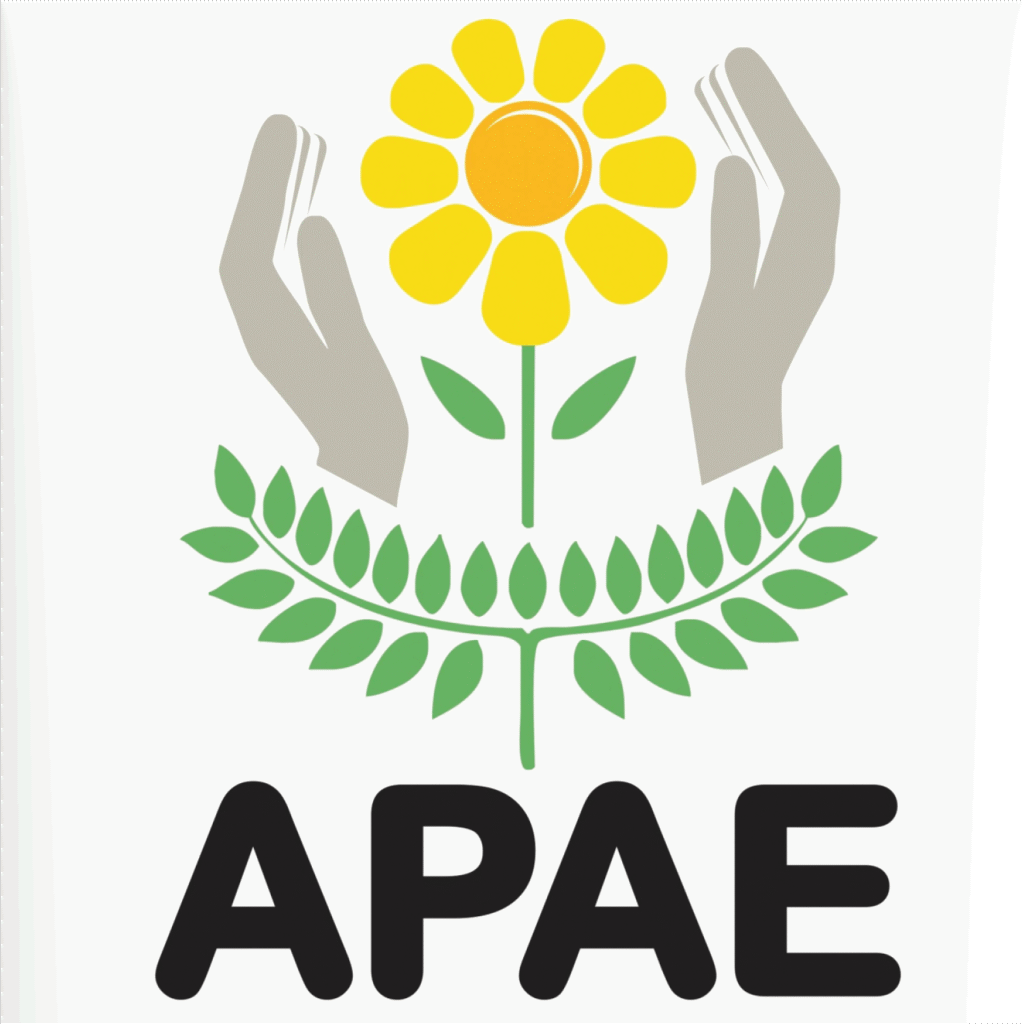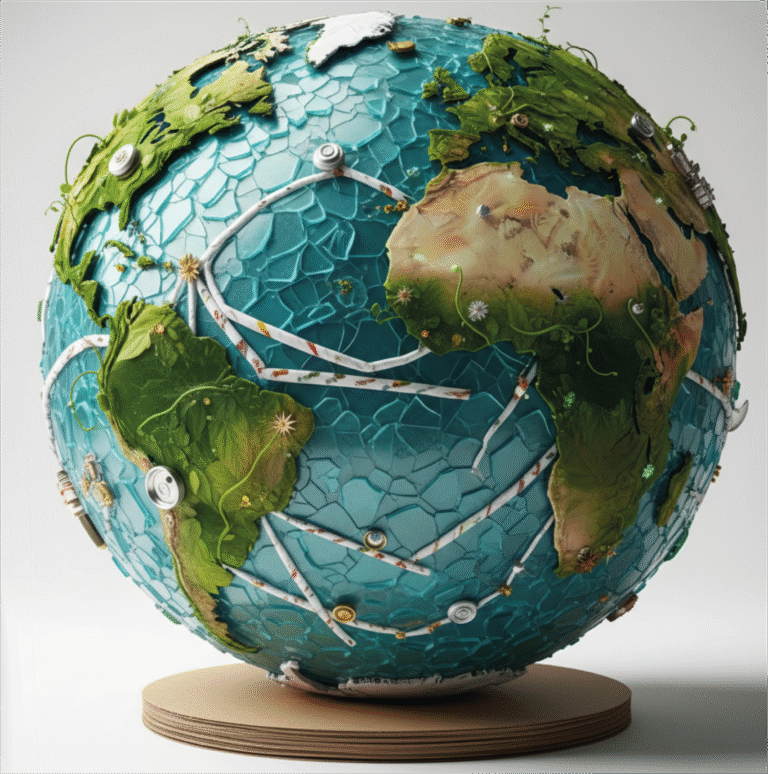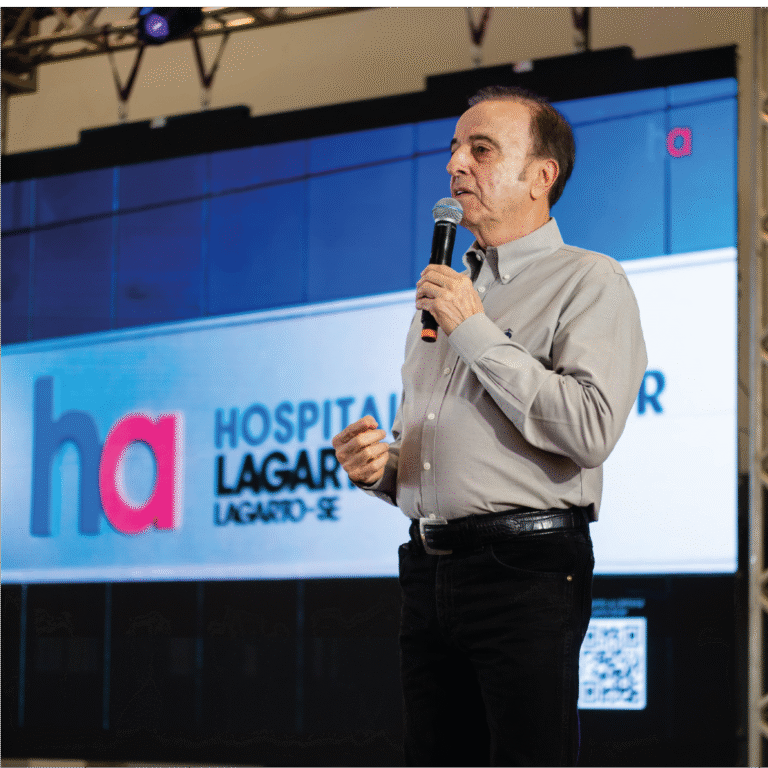No dia 21 de outubro de 2025 foi publicado o Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. O decreto tem como objetivo assegurar o direito à educação em um sistema escolar inclusivo para estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista (TEA) e com altas habilidades, definindo princípios, responsabilidades e regras sobre a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas comuns.

A publicação já provocou intenso debate público: há manifestações de apoio de redes e organizações que atuam pela inclusão, e também reações contrárias de algumas instituições tradicionais do campo da educação especial — entre elas a APAE Brasil, que defende a revogação (ou suspensão) do decreto. Neste texto explicamos, com base em documentos oficiais e reportagens, o que diz o decreto, por que há resistência e quais são as perguntas importantes que a sociedade deve colocar sobre a implementação prática dessa política

O presidente da Apae Brasil, Jarbas Feldner de Barros, criticou o Decreto nº 12.686/2025 por considerar que ele coloca em risco as escolas especializadas, pois interpreta o texto como uma obrigatoriedade de inclusão em salas comuns que pode levar ao fechamento das APAEs.
O que o decreto prevê (resumo prático)
• Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e cria a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, com atribuições de coordenação e integração das ações entre os entes federativos.
• Reafirma a prioridade da escolarização em ambiente regular, com oferta de AEE como ação complementar, e estabelece diretrizes para formação continuada de profissionais e organização das redes de ensino.
• Define princípios como igualdade de oportunidades, combate ao capacitismo e promoção da equidade.
Por que a APAE Brasil pede a revogação — quais argumentos são apresentados
A APAE Brasil divulgou notas públicas e postagens afirmando que vai buscar a revogação/suspensão do decreto.
Os principais pontos que a entidade e apoiadores expõem são:
• Risco de enfraquecimento das APAEs e outras instituições especializadas: preocupação de que a priorização do atendimento exclusivamente em escolas comuns reduza financiamento, vagas e demanda por serviços especializados oferecidos pelas APAEs.
• Medo pela perda de oferta qualificada: argumento de que muitas famílias dependem de serviços especializados (terapias, atendimento multiprofissional, rotina educativa adaptada) que nem sempre podem ser garantidos apenas na escola regular.
• Processo de construção e escuta insuficiente: crítica ao fato de que o decreto teria sido elaborado sem diálogo amplo com todas as entidades que prestam atendimento especializado, segundo notas e manifestações públicas.
Essas preocupações levaram APAE Brasil a articular medidas legislativas (projeto de decreto legislativo) e a solicitar debater pontos específicos com o Ministério da Educação.

Há quem apoie o decreto — principais justificativas
Ao mesmo tempo, redes e organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência divulgaram cartas e notas de apoio, argumentando que a política representa avanço na garantia de direitos e na organização da rede de atendimento nos sistemas estaduais/municipais. As entidades ressaltam que a inclusão nas escolas regulares é uma exigência internacional (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e que o decreto reforça princípios de equidade e acesso.
Perguntas centrais que o debate público precisa responder

1) O decreto prejudica as APAEs?
Depende. O texto legal não proíbe a atuação das APAEs, mas as entidades temem efeitos indiretos: redução de contratos, alteração de fluxos de financiamento e desvios de matrículas que sustentam a rede institucional. Reportagens e notas mostram que as APAEs interpretam que, na prática, a política pode reduzir sua sustentabilidade caso não exista articulação clara e mecanismos de proteção para as organizações que já prestam serviços especializados. É um risco real se a implementação não considerar compensações e parcerias.
2) O decreto tira a liberdade de escolha dos pais?
O texto aponta para a prioridade da escola comum, com oferta de AEE, mas não derruba formalmente o direito da família de optar por outras modalidades de atendimento. Ainda assim, há temor entre famílias: mudanças na oferta pública escolar e no financiamento podem, na prática, limitar opções — sobretudo em municípios sem escolas ou profissionais preparados. Logo, a resposta depende de como estados e municípios organizarem vagas, recursos e parcerias.
3) O decreto prejudica a Lei de Incentivo PRONAS (ou projetos vinculados ao Pronas/PCD)?
Não existe, no texto do decreto, disposição que revogue ou limite diretamente o Pronas/PCD. No entanto, o impacto pode ser indireto: se políticas públicas redirecionarem prioridades orçamentárias, ou se houver revisões nas contrapartidas e certificações, projetos financiados via incentivos podem precisar ajustar escopo e articulação com as redes municipais. Ou seja: juridicamente não há conflito declarado, mas na prática será importante monitorar normativos complementares e regulamentações locais.
4) A teoria da inclusão é boa — mas é viável na prática?
A teoria de inclusão (escola para todos) é amplamente reconhecida como desejável e amparada por tratados internacionais. A questão prática é logística: as escolas regulares precisam de infraestrutura, profissionais capacitados, equipes de apoio (AEE), recursos didáticos adaptados e articulação com serviços de saúde e assistência social. Sem investimentos robustos e formação continuada, a inclusão pode se tornar simbólica — ou até contraproducente — se estudantes não receberem os apoios necessários. Artigos recentes perguntam justamente se as redes têm essa estrutura pronta.
5) As escolas têm suporte e capacitação para receber crianças e adolescentes com deficiência?
Em muitos municípios as respostas são desiguais. Há experiências de sucesso, mas também relatos de escolas sem formação adequada, sem profissionais especializados nem material pedagógico adaptado. O decreto prevê formação continuada e articulação, mas a implementação exige investimento financeiro e políticas locais consistentes — e é aí que reside o desafio maior. Sem esses investimentos, a inclusão na prática ficará aquém do ideal.

O que dizem especialistas e a imprensa
A cobertura jornalística identificou forças e fragilidades do decreto: enquanto vozes ligadas à defesa dos direitos e à academia o consideram um avanço regulatório, representantes das APAEs e alguns parlamentares manifestaram preocupações quanto ao processo e aos efeitos práticos. Jornalistas também apontaram que o documento precisa ser acompanhado de normas de execução, cronogramas e previsões de recursos para não ficar apenas no plano das intenções.
Pontos práticos que precisam ser definidos nas próximas etapas
1 – Planos estaduais e municipais com cronograma e recursos para capacitação de professores e contratação/remoção de profissionais de AEE;
2 -Mecanismos de proteção para instituições especializadas (APAE e outras) — contratos de parceria, credenciamento e linhas de financiamento/transição;
3 -Modelos de governança local que articulem saúde, educação e assistência social;
4 -Monitoramento independente (indicadores de aprendizagem, permanência e qualidade do AEE) para avaliar se a inclusão está funcionando de fato.

Conclusão — por que abrir o debate é urgente
A intenção declarada do Decreto nº 12.686/2025 — ampliar e garantir o direito à educação inclusiva — encontra amplo respaldo teórico e legal. Mas a transformação proposta só será efetiva se vier acompanhada de recursos, formação, regulação prática e diálogo com as organizações que historicamente prestam serviços especializados. As preocupações da APAE Brasil apontam problemas que merecem resposta concreta: proteger serviços que já funcionam, assegurar escolhas das famílias e garantir que a inclusão não se limite a palavras no papel.
A matéria não toma posição; o objetivo é apresentar os fatos, as vozes que apoiam e as que contestam, e estimular que a sociedade — famílias, profissionais, gestores e doadores — acompanhe a regulamentação e cobre soluções viáveis. Só com debate público e político transparente será possível transformar a teoria da inclusão em prática efetiva e justa.